Eu não me considero uma pessoa rebelde, mas sei que sou questionadora e este meu ímpeto em escrever e traduzir o mundo a partir dos meus olhos, das minhas experiências e vivências sempre me acompanhou como uma certeza indissociável ao meu ser. Aos 8 anos de idade “sabia” que queria fazer jornalismo, pois entre as minhas brincadeiras estavam apresentar um jornal, ler as notícias no papel impresso, fazer a locução de programas imaginários de rádio, entrevistas.
Quando enfim cheguei à universidade me deparei com a realidade de se fazer comunicação. Além do desestímulo constante (apesar de ter encontrado professores essenciais à minha formação, salve salve meu orientador Paulo da Rocha), era traçado um panorama cruel quanto ao mercado de trabalho. Eu não conseguia compreender todas aquelas regras e fórmulas para o fazer jornalístico.
Lembro até hoje de uma aula em que tivemos que produzir cinco tipos diferentes de lead (quem, quando, como, onde e por quê – são as cinco perguntas que devem constar no primeiro parágrafo do texto para objetivamente informar o leitor o que ele encontrará nas linhas seguintes). A informação base para criar estes cinco leads era a guerra entre as formigas e o elefante.
Eu não conseguia entender por que precisava colocar todas as informações no primeiro parágrafo e me sentia incapaz de produzir um texto decente com estas imposições. Algumas outras aulas permitiam uma liberdade e criatividade maior. Em uma dessas, o professor Ailton Segura pediu-nos um perfil sobre alguém da turma, e eu fiz sobre a Raquel Mützenberg. Comecei a matéria escrevendo sobre o surgimento do teatro, era algo como “quando Tépsis subiu em uma caixa de madeira para narrar uma história na Grécia Antiga poderia não saber mas assim criava o teatro”.
Ele corrigiu o começo do meu texto ao meu lado e perguntou: “melhor assim”? Ao que eu respondi: “não, prefiro do jeito que estava antes”. Por uns segundos ele ficou sério e em silêncio contemplou meu rosto impassível. Não era brincadeira. Então ele me surpreendeu e disse algo que levo até hoje: “Você está certa. Uma boa jornalista sempre briga pela sua matéria”. E voltou ao texto original.
Aquilo acendeu algo em mim. Hoje eu vejo que como quase todo jovem era extremamente arrogante, esta vontade de devorar o mundo com suas frágeis certezas inabaláveis, mas era também uma tentativa desesperada de me libertar de todo aquele formato engessado da academia e me reconhecer nas linhas que escrevia.
Aquelas fórmulas me sufocavam. Eu não concordava que só assim o leitor conseguiria ler o meu texto, e pensava que se fosse bom, não interessava a informação principal estar no começo ou no final, a pessoa iria até as últimas linhas caso o ritmo a prendesse. E isso não aconteceria se houvessem amarras e condicionantes textuais.
Comecei a trabalhar logo no começo da faculdade, estagiei em um jornal impresso, no caderno de cultura e escrevia crônicas. Sentia que a crônica conseguia escapar destas pressões do modelo importado norte-americano para a imprensa brasileira. Eu podia ser personagem e emprestar o sentimento do que vivi para as palavras no papel. Era isso. O tema do meu trabalho de conclusão de curso! Estudar a crônica. Troquei uma ideia com o professor que escolhi para me orientar, Paulo Rocha. Então ele me disse: se você quer estudar sobre a crônica, primeiro deve começar pelos gêneros literários e entender como surgiu a imprensa e a literatura no Brasil. Você precisa do amplo para depois, em outro momento, pesquisar só a crônica.
Foi assim que eu iniciei minha pesquisa: a história da imprensa e da literatura no Brasil. Antes da vinda da coroa portuguesa em 1808, qualquer tipo de publicação era considerada clandestina. Quando o navio da coroa aportou nas praias brasileiras fugindo da tropa de Napoleão que invadia Portugal, trazia em seu porão a primeira prensa considerada oficial. Os prelos estavam lá, a prensa de tipos móveis inventada por Gutenberg (por volta de 1450) chegava pela primeira vez ao Brasil. Assim nascia oficialmente a literatura e a imprensa brasileiras.
Nos primórdios da imprensa, o jornal era o veículo que levava informação e literatura. Os textos que estampavam as páginas misturavam poesia, opinião, prosa, informação, reflexões, questionamentos, filosofia, arte, teatro, críticas. Uma miscelânea rica. E se atirava à profissão de jornalista qualquer pessoa que quisesse arriscar um texto: médicos, advogados, escritores, professores. Por ser caro e grande parte da população analfabeta, os jornais eram lidos em voz alta nas praças para um público com olhos ávidos e curiosos.
Esse movimento também aconteceu em Mato Grosso que teve ilustres crônicas, literatura que misturava-se ao jornalismo, sem saber onde acabava uma e começava o outro como nos textos de José de Mesquita.
Mas então uma mudança gradual começou a partir da década de 50. Houve uma padronização da imprensa brasileira que importou o modelo norte-americano da objetividade, imparcialidade, distanciamento. E eu só pensava: distanciamento do que? Imparcialidade como? O que é objetividade afinal? Esse ritmo industrial-maquinal que leva à criação de algoritmos que produzem notícias, anunciando assim o iminente fim da profissão de jornalista? Como se as máquinas pudessem substituir a humanidade e fazer uma leitura sobre toda a complexidade e subjetividade do que é ser e estar no mundo.
A morte anunciada de tantos meios de comunicação como livros, jornais, rádios, revistas, televisão, foi combustível para mudanças em cada um deles. A efemeridade da internet corrobora o por que do modelo norte-americano. Cada clique é conquistado com muito suor, sangue e lágrimas. O sensacionalismo que mancha as manchetes em busca de mais acesso, mais comentário, compartilhamento.
É deste mundo contemporâneo com suas novas formas de rede e de comunicação através das redes sociais que criou-se o conceito de fake news ou pós-verdade (considerada a palavra de 2016 pelo Dicionário Oxford) A manipulação da informação é algo que acompanha a própria história da humanidade (vide a bíblia), contudo, a opinião hoje ganha status de verdade, galgada na liberdade de expressão, mesmo que emitida sem qualquer tipo de embasamento. E isto é perigoso, temeroso, afinal vivemos uma onda fundamentalista em todo o mundo.
Quando notícias falsas tem o poder de direcionar/mobilizar a opinião pública e alterar os caminhos na realidade para além da bolha virtual é a hora de soar o alerta. O alerta para a sociedade de uma forma geral, para os leitores, consumidores de informação, para os formadores de opinião, para os jornalistas, para que todos tenham responsabilidade com a leitura. Nos Estados Unidos, a pós-verdade influenciou uma eleição. Notícias falsas compartilhadas na rede pesaram e fizeram a diferença nos cruciais votos que elegeram Donald Trump ante Hillary Clinton.
O escritor, jornalista, prêmio Nobel de Literatura, o peruano Mario Vargas Llosa escreveu no texto “Ler um bom jornal“: “Todo mundo reconhece a importância central que a imprensa tem em uma sociedade democrática, mas provavelmente poucas pessoas alertam que a objetividade informativa existe apenas em raras ocasiões e que, na maior parte das vezes, a informação tem lastro no subjetivismo, pois as convicções políticas, religiosas, culturais, étnicas, etc, dos informadores frequentemente deformam sutilmente os fatos que descrevem até mergulhar o leitor em uma grande confusão, ao extremo de às vezes parecer que os noticiários e jornais passaram a ser, também, romances e contos, expressões de ficção”.
Perceba que aqui ao classificar os noticiários e jornais como “romances e contos” e “expressões de ficção”, Llosa considera o caráter e apelo sentimental e emocional destas fake news, que trabalham com emoções extremas como o ódio. Fazem deste o cunho da informação que se perpetua na rede através de compartilhamentos criando assim a pós-verdade: o que vale é a opinião e crenças pessoais.
Em matéria veiculada pelo El País “Internet se rebela contra a ditadura dos algoritmos“, Walter Quattrociocchi, o pesquisador da área de ciência de dados, redes e algoritmos no IMT – Institute for Advanced Studies italiano, alerta sobre essa ideia: “Um algoritmo, por definição, nunca será capaz de distinguir o verdadeiro do falso”. Carlos Castillo, que dirige o grupo de pesquisas de ciência de dados no Eurecat (Barcelona), concorda: “Decidir se algo é verdadeiro ou falso não é algo que devemos terceirizar para uma máquina. Nem para outras pessoas. Não pode haver um Ministério da Verdade [como o do romance 1984, de George Orwell], tampouco um algoritmo da verdade”. Nesta mesma matéria, os pesquisadores ressaltam o fato preocupante de que muitas pessoas ainda não sabem interpretar notícias na rede.
Quando nos distanciamos tiramos de nós a responsabilidade daquilo que escrevemos. Somos transmissores de informação ou de audiência? O que importa é quantidade e não qualidade? No meu caminho como jornalista inspiro-me na Eliane Brum, utilizei uma frase sua que me marcou no meu trabalho final da universidade: “Jornalismo é despir de si para ir de encontro ao outro”.
Eu tenho responsabilidade pelas minhas palavras. Eu sei que o que eu escrevo tem peso, e por isso decidi que nunca mais me esconderei nas minhas linhas. O caminho é penoso, mas é o único que faz sentido. Eu não tenho como afastar quem eu sou daquilo que escrevo, das minhas marcas, experiências, vivências, erros e acertos. Todo o ser contido em mim converge em um entendimento que é meu e está em constante evolução. Desse sonho em fazer um jornalismo que fosse mais do que informação nasceu o Cidadão Cultura. A liberdade em poder escrever sobre o que me move, o que acredito, sendo sincera com quem me lê é indescritível. É tão libertador que sinto o peso dessa responsabilidade e isso me traz de volta ao chão para ver e ouvir as histórias, pessoas e lugares.
Precisamos ser sinceros em todas as nossas relações. Não temos como nos dissociar daquilo que produzimos, do que somos. Foram 365 dias de muito aprendizado neste primeiro ano de existência e resistência do site. Conseguimos graças à colaboração mútua de artistas, jornalistas, escritores, entusiastas, ativistas, produtores e agentes culturais que se colocaram à disposição para acreditar em uma outra forma de fazer comunicação.
É possível. E é nosso dever reescrever a história do jornalismo no Brasil.



















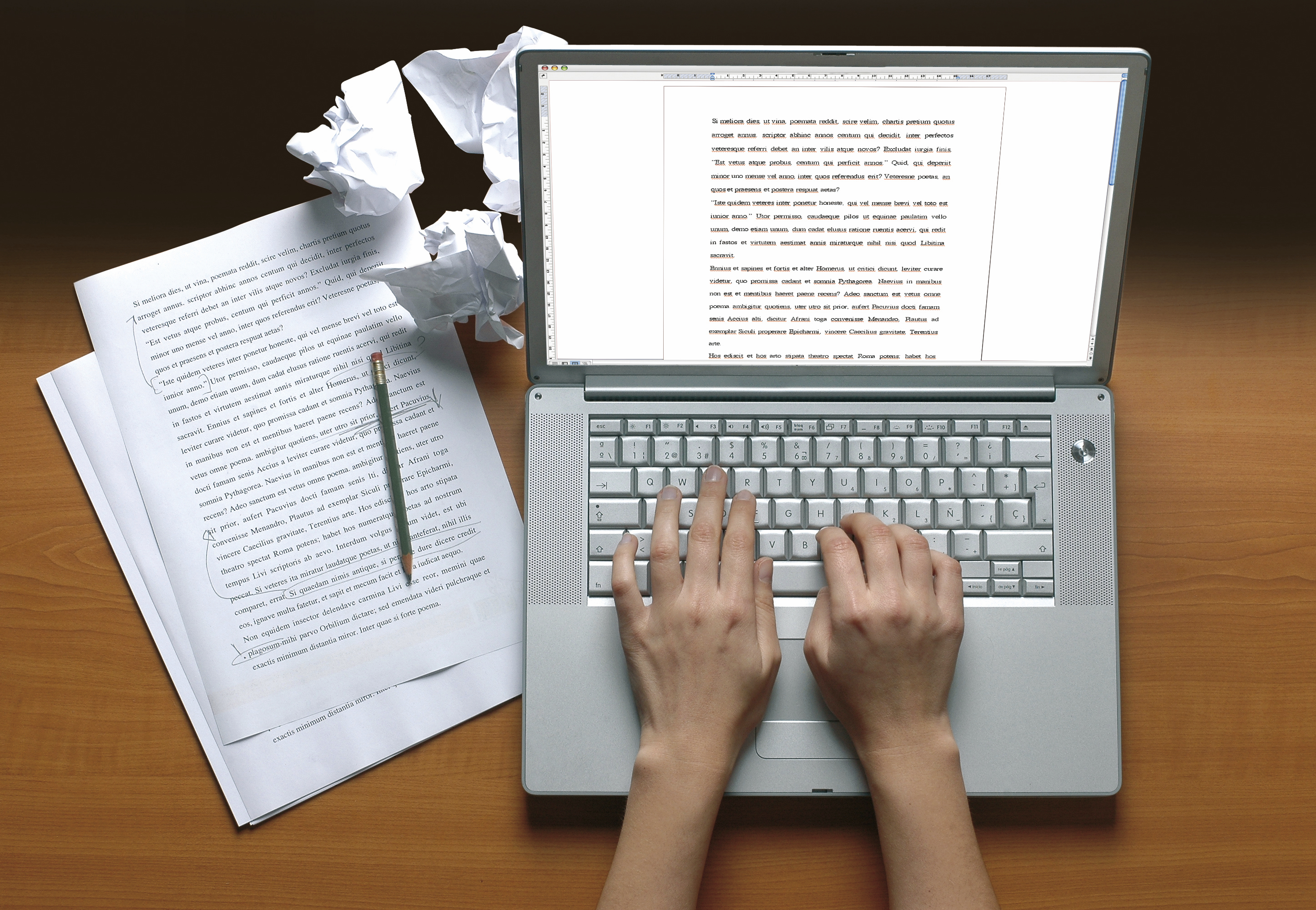



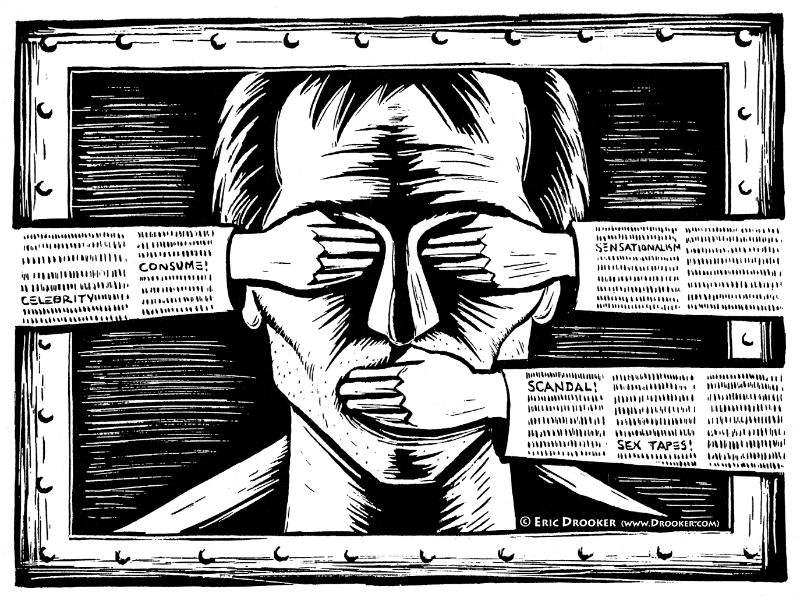




[…] necessário enquanto que no meio político é conveniente bombardear redes sociais ou as famosas fake news, então, como filtrar, fazer essa percepção chegar”, ponderou […]