Por Johnny Marcus*
Artigo de Ruy Castro na Folha de 18/09 fala sobre o chamado “inglês de Tarzan” de nós brasileiros. Segundo o autor de “O Anjo Pornográfico”, “pela abundância de inglês em nossas placas, fachadas e camisetas, era como se o falássemos tão bem quanto os alemães. Que nada. Pela avaliação internacional, somos tão monoglotas quanto os russos”.
Ainda ontem de noite encontrei por acaso a colega jornalista Dafne Spolti. Com seu humor peculiar, ela me contou como foi conversar pelo telefone com uma americana pra tratar sobre um projeto ambiental. “Foi meio tenso, mas acho que consegui me fazer entender”.
Lembrei então de um texto bem na linha do Ruy Castro que escrevi tempos atrás. Consumidores vorazes de música e cinema americanos, os brasileiros deveriam já ter o inglês como segundo idioma, na ponta da língua, né? Mas qual o quê? Seguimos produzindo pérolas.
Veja só:
Como é mesmo o nome daquele dispositivo móvel de armazenagem de dados? Pendrive, certo? Agora pasme que o povo da terra do Tio Sam não fala pendrive e sim flashdrive. Quem saiu com essa de pendrive então?
Bem, o equipamento foi inventado em 1998 pelo israelense Dov Moran e colocado no mercado pela IBM no ano 2000. Bota fé que inicialmente a capacidade da interface era de 8MB? Além disso, foi apelidado de ThumbDrive (thumb=polegar), provavelmente por causa de seu tamanho.
Não consegui apurar por quem foi rebatizado de pendrive, somente que recebeu esse nome porque tinha uma tampa como uma caneta (pen) e cabia no bolso. Se bem que desconfio dos japoneses.
Na década de 1980 eles já tinham saído com um tal de “walkman”, um rádio portátil que tocava fita cassete e conectado a um fone. Como dava pra ouvir música andando (walk), nada mais lógico ser chamado de walkman – homem caminhando, em tradução livre.
Voltemos ao pendrive que, aliás, falamos PAINdrive. Pain, em inglês, é dor. Uma vez encontrei um americano na praça de Chapada dos Guimarães e conversa vai, conversa vem, ele me perguntou porque nós brasileiros associávamos dor ao dispositivo. Hã?!
Em tempo, o nome flashdrive justifica-se pelo fato de ser usada memória flash na armazenagem dos dados.
Situação parecida aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014. Eu era o locutor oficial do evento e tinha como coordenador de área um simpaticíssimo senhor inglês. Daí que antes das partidas, numa promoção do McDonald’s, cada seleção entrava em campo acompanhada de dez crianças, nomes estampados no telão.
Durante o ensaio (tudo lá era minuciosamente ensaiado) o inglês ficou encafifado com a grafia dos nomes dos nossos meninos e meninas. Quando ele viu “Maykon” na tela e eu pronunciando “Máikon, pirou o cabeção. Ele queria que eu dissesse “Meikon”, pronunciando o “may” como se fosse o mês de maio mesmo. Como explicar que focinho de porco não é tomada?
Pacientemente falei pra ele que aquela situação esdrúxula era porque na verdade os pais batizaram o filho de Maykon achando que esta era a grafia correta de Michael, numa homenagem ao astro Michael Jackson.
De volta a Ruy Castro, ele termina seu artigo na Folha alegando que “se o Senado ratificar Eduardo Bolsonaro, teremos em Washington um embaixador que, como diria o inesquecível Telmo Martino, aprendeu inglês com… Tarzan”.
Permissão para discordar mestre, mas por mais absurdo que possa parecer, não há problema um embaixador não ter um inglês perfeito, mesmo porque os organismos internacionais oferecem tradutores para quem assim desejar.
Ano passado o embaixador francês Philippe Leglise-Costa abandonou furioso uma reunião da União Europeia ao ser informado que os embaixadores todos teriam de falar inglês, não podendo falar na língua nativa, prerrogativa garantida no estatuto da UE e de outros órgãos diplomáticos.
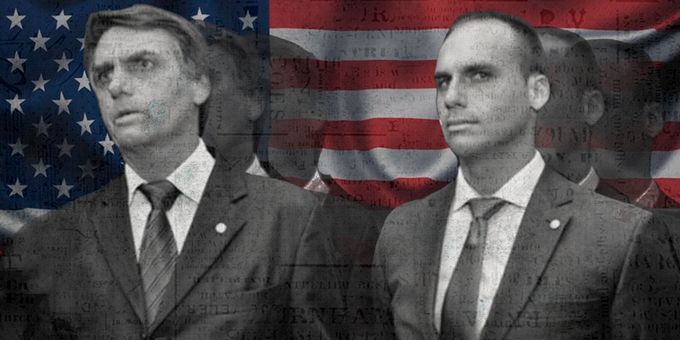
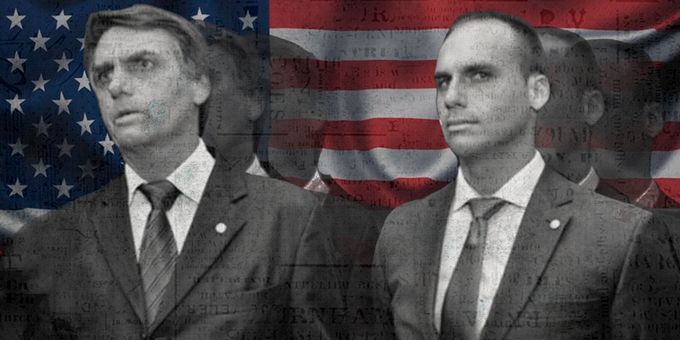
Pesquisei mas não consegui encontrar uma matéria antiga da revista Veja sobre o suposto multilinguismo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nela, um diplomata americano reclamava da insistência de autoridades brasileiras de quererem falar inglês nas reuniões. O argumento foi qualquer coisa como “de que adianta eles (brasileiros) falarem um inglês que ninguém entende? Para isso existem os intérpretes oficiais”.
É fácil encontrar entrevista de FHC em inglês no Youtube. Se fosse pra passear na Disney ele se viraria bem, mas para falar de temas sensíveis de política internacional a coisa complica e muito.
Uma vez vi no Jornal Nacional FHC recebendo o título de Honoris Causa numa universidade britânica. Trajando a beca e capelo e incomodado com o calor, ele se vira para a mesa de honra e solta esta: “Can I take the hat out?” (Posso tirar o capelo?)
Incrível que possa parecer, o ex-presidente intelectual sociólogo conseguiu a proeza de cometer dois erros numa frase de seis palavras. Como estava numa situação formal, o correto seria começar com o modal “may”, ao invés de “can”. Como o capelo estava SOBRE e não DENTRO de sua cabeça, ele deveria ter usado a preposição “off”.
Digo tudo isso pra argumentar que a principal deficiência de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador não é a questão da fluência em inglês. Seu problema está na obtusidade do pensamento, ou total ausência dele. Se bem que não se deve esperar grande coisa de alguém que tem como mentor Olavo de Carvalho.


Pra finalizar, Eduardo Bolsonaro e sua turma nazifascista sofre do chamado efeito Dunning-Kruger, popularmente conhecido como Síndrome do Idiota Convencido. Nele, o sujeito que sabe pouquíssimo, ou nada, sobre determinado assunto, julga saber mais do que sumidades na área. Pior ainda: querem dar aula aos especialistas.
Johnny Marcus é natural de Cuiabá, tem 50 anos de idade e é jornalista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Foi professor de inglês e interpretação de texto em língua portuguesa durante 25 anos nas principais escolas particulares de Cuiabá. Atuou como repórter nos jornais Correio de Mato Grosso, Circuito Mato Grosso, a Gazeta e na revista RDM. Como radialista trabalhou nas rádios Clube FM, Cuiabana FM, Centro América FM, Regional FM e foi o locutor oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014 na Arena Pantanal.





















