A primeira vez em que estive em Porto Alegre foi no inverno de 1993. Eu havia saído de um relacionamento de cinco anos e estava viajando pelo Brasil vendendo poesias em bares e logradouros públicos. Acho desconfortável quando se está em um desses locais e alguém chega vendendo poemas, livros, coisas do tipo. Embora entenda que é a fatia do mercado que sobra para muita gente. Ocorre que, às vezes, casais, amigos e familiares buscam nesses ambientes momentos de descontração. E nem sempre são bem vindos elementos exógenos a esse enlace.
Por indicação de um primo fiquei hospedado na casa de um jornalista que morava com um jovem bajeense, que me receberam muito bem. Por intermédio deles conheci alguns bares em que se podia fazer esse comércio tranquilamente. Bar do Beto, quando ainda era na esquina da Venâncio Aires, antes de se transferir para o outro lado da rua, em espaço ampliado. Van Gogh, nas proximidades do Parque da Redenção, Cabaré Voltaire, e muitos outros. Hoje, tanto meu primo como o jornalista moram em Garopaba, Santa Catarina.
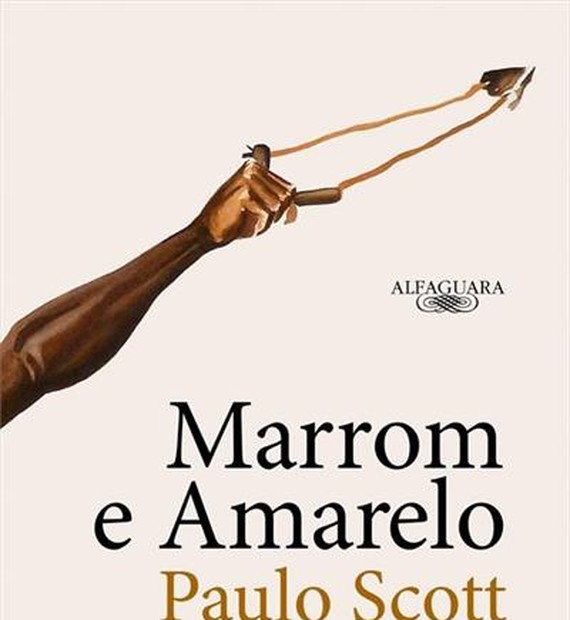
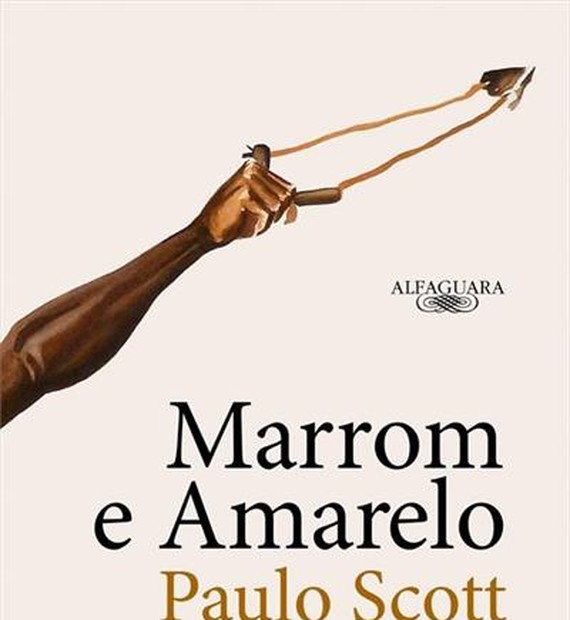
O mito do bom selvagem atravessa as fronteiras da Paris oitocentista e segue para as páginas da cultura brasileira pelas mãos de José de Alencar. Aquele cearense que ousou escrever um romance intitulado “O Gaúcho”, sem ter pisado o Rio Grande. Sem saber que o “Zaffari da Ipiranga, hipermercado que naquela época era o melhor mercado da cidade e um lugar onde minha mãe evitava comprar porque era estabelecimento onde não se via um funcionário negro no caixa, na padaria, no açougue, na função de empacotador, de recolhedor dos carrinhos de compras no estacionamento, de segurança” (idem, p. 29).
Virei professor, depois de viajar por um bom tempo pelo país, voltar para o Mato Grosso, medida acertada depois de ver as dificuldades que teria em fixar residência em Porto Alegre. Mas voltei lá outras vezes e morei por seis meses no ano de 1996. Entre tantas figuras interessantes que por lá conheci, destaco o escritor (e cineasta) Tabajara Ruas, de quem li todos os livros publicados e que me mostraram o vigor de uma tradição literária de excelentes contadores de história. No rastro de Érico Veríssimo, Ruas dá contornos atualizados para o romance histórico. E tem seus passos seguidos bem de perto por Letícia Wierchowski, com quem viajei pelo Arte da Palavra do SESC, em 2017, para a Bahia.
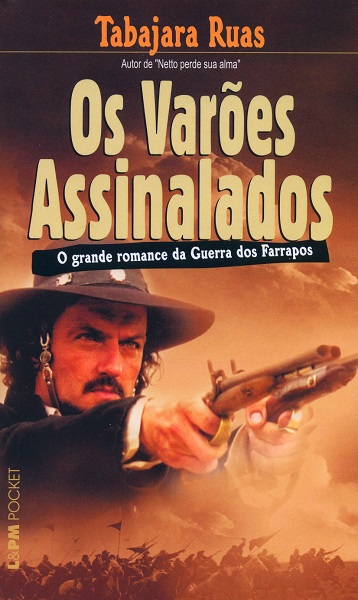
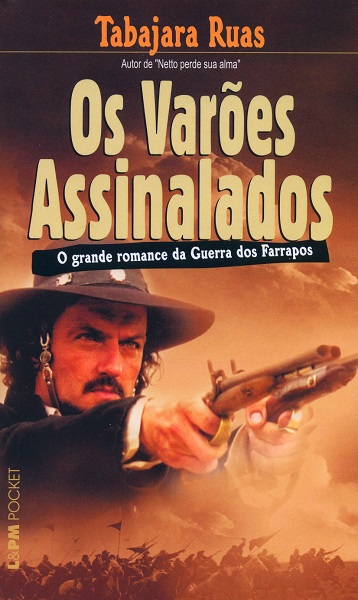
Fui a uma das festas, levado pelo Tom, o amigo bageense, em que experimentei a batida de um DJ que, em 1996 já arrepiava de há algum tempo as noitadas da capital gaúcha. Eis que ele atravessa a narrativa de Paulo, “DJ Kafu, um cara da turma do meu irmão que trabalha como operador de áudio na Rádio Ipanema e vem fazendo o seu nome na cidade como disc jockey de festas de clubes grã-finos, tocando rock, som surfe e um pouco de som black” (idem, p. 46).
Paulo Scott fala do momento da implantação das cotas na educação brasileira. As discussões se dão em torno de uma Comissão que discute a constitucionalidade, as ponderações. E a narrativa repercute uma discussão em torno de uma publicação da Folha de São Paulo na qual Jorge Mautner ironiza “se o futuro presidente Tancredo Neves me convidar para um ministério, eu vou falar, Acho que se deve falar de tudo” (idem, p. 69). E a gente nem imagina que o pum de um palhaço fosse importante para a cultura brasileira.


Paulo, mais uma vez concordo contigo, aliás, com a sua narrativa: “Nenhuma boa história é leve, Federico, Nenhuma boa história deixa de fora o que é denso, o que é pesado, observa” (idem, p. 111). Não é preciso que reinventemos a roda, pois é sabido por todos que “os ricos estão ficando cada vez mais medrosos e covardes e, por isso, cada vez piores, Que a turma dos que acham os negros uma gente asquerosa só está aumentando” (idem, p. 141). Já dizia Riobaldo nas páginas amareladas do Grande Sertão: Veredas que “viver é muito perigoso”.
Como educador, mais do que leitor e escritor, atribuições a que me dedico diariamente, tiro das páginas deste livro tão necessário para os dias de hoje uma lição que pode ser útil para uma educação de resistência em tempos nublados como os que vivemos. Devíamos “inserir nos calendários escolares reflexões mensais ou bimensais sobre a escravatura e o holocausto indígena” (idem, p. 147). Muitos vivas para a literatura, para as artes, para a cultura e a educação para se formar pessoas de bem.
REFERÊNCIAS
SCOTT, Paulo. Marrom e Amarelo. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2019.
























Sempre um deleite ler os aprendizados que o Luiz Renato tão gentilmente compartilha conosco <3