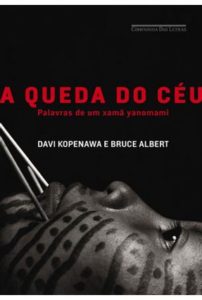Minha avó materna nasceu em 1901, no sul do Paraná, seus pais vieram da Polônia para se instalar em uma colônia de pequenos agricultores que se mesclaram a alemães e italianos no município de Irati. Se estivesse viva, neste último quatro de março teria completado cento e vinte anos, mas morreu aos oitenta e cinco, depois de ter enterrado dezessete dos dezoito filhos. Lembro-me de sua figura austera como um ateu se lembra do velho testamento, do qual ela me parecia legítima representante. “Se você não obedecer a sua mãe, Deus vai te castigar”. E as ameaças fizeram parte de nossa deliciosa infância, na qual ela nos protegia, a mim e a meus irmãos.
O contato com a cosmogonia yanomami me traz certa similaridade com alguns conceitos que, de uma forma ou de outra, passearam pela minha educação. A vó casou-se com um gaúcho que trazia em seu sangue algum componente nativo das etnias do sul do país. Ocorre-me pensar em visões primitivas como a que resumia em aforismos do tipo: “o sol está cada dia mais perto da terra”, afirmação que utilizava sempre que se referia ao calor reinante. Ler Kopenawa foi a oportunidade de me voltar para a necessidade imperiosa de rever os conceitos, sem dúvida. Essas epidemias a que se refere cobrem de verdades os espaços em branco de nossa formação umbilical.
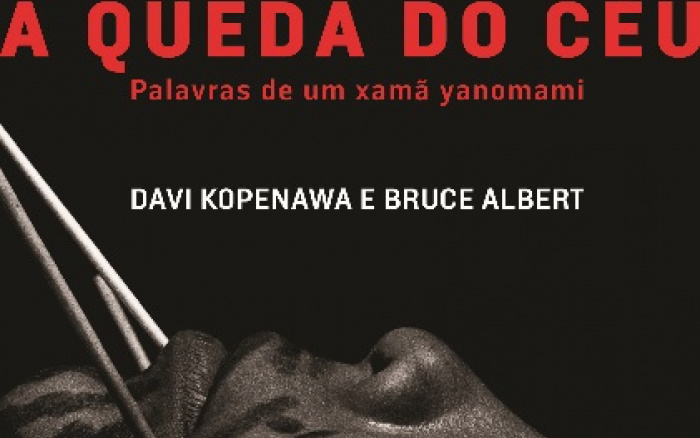
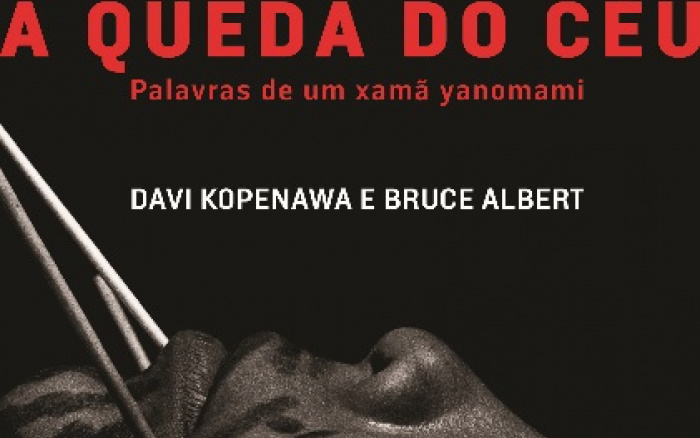
Ao se operar as estruturas míticas pelo viés do sonho havemos de cuidar sempre com o campo da psicanálise. A compreensão dessas estruturas nos coloca em rota de colisão com o pensamento nativista, e o lado mítico pode ficar sombreado por teorias outras. A estrutura narrativa que Kopenawa apresenta, filtrada pelo olhar de Bruce Albert, faz com que os sonhos sejam vistos e interpretados como portadores de uma boa nova, sempre, mas que não se apresentam como um fim em si mesmo, se não como identificadores de caminhos para uma interpretação maior.


Observemos os substantivos que compõem a citação acima: sonhos / espíritos / cordas / rede / céu / antenas / lado / caminhos / xapiri / cantos / caminho / telefone/. Penso que uma interpretação mítica da citação pressupõe um mergulho morfológico no que há de mais concreto no âmbito da imaginação. Que imagem se constrói a partir desse elemento morfológico?


Para se penetrar nas camadas profundas do significado, há que se preparar o corpo e o espírito de pesquisador. “Os caminhos dos xapiri, finos e transparentes como fios de aranha, são muito frágeis”. (p. 138). Essa imagem me parece interessante e pode dar boa margem para suas construções de sentido. A aranha
É um símbolo com significados opostos. Em razão de sua rede em raios, tecida habilmente, e de seu posicionamento central é considerada na Índia símbolo da ordem cósmica e “tecelã” do mundo sensível. Visto que produz de si mesma os fios de sua rede, como o sol os seus raios, é também um símbolo solar, e deste ponto de vista, a rede pode representar também a emanação do espírito divino. (…) Na Bíblia, a aranha aparece como símbolo da fragilidade e da esperança vã, por causa de sua rede pouco resistente. As crenças populares muitas vezes opõem a aranha venenosa à abelha: a superstição considera seu aparecimento, dependendo da hora do dia um sinal de boa ou de má sorte. (LEXIKON, 2015, p. 21-22).
Os caminhos desenhados pelos xapiri, aos olhos de quem passa pelo transe, propiciam esse mergulho. A teia de significados se amplia com o tempo. A dose utilizada determina o impacto que o transe produz no organismo. A perda de peso e o tempo em que esse estado permanece possibilitam o conhecimento do abismo. Quando relata sobre os espíritos inferiores que vivem abaixo da terra, o narrador de “A queda do céu” apresenta ao leitor o estágio de degradação que esses xapiri de baixa estatura moral vivenciam.
Assim que cai na floresta deles, a cortam [a comida] e comem gulosamente em meio a uma agitação confusa. São mesmo insaciáveis, e não compartilham nada entre eles. Tanto que é comum uma de suas velhas, Okosioma, chorando de fome porque não lhe deram tripas de caça. (idem, p. 183).


Essa imagem de Okasioma lembra Macunaíma, de Mário de Andrade. O filme, de Nelson Pereira dos Santos torna clássica a imagem do pequeno (anti) herói comendo as tripas enquanto a mãe e os irmãos mais velhos se deliciam com o banquete com a carne de anta. Macunaíma chora. Há que se lembrar de que a narrativa de Mário de Andrade se constrói a partir das pesquisas do alemão Koch-Grunberg, observadas na Amazônia Setentrional, em solo colombiano, próximo à região yanomami.
Considerar que os nativos, em sua vida primitiva, são seres de segunda classe é um imperativo desde o início da colonização e impede uma aproximação fraterna e solidária. Kopenawa disserta tranquilamente sobre isso ao longo da obra. “Colocou neles uma garganta diferente da nossa”. (p. 233). Entre os próprios brancos as gargantas parecem diferentes. Imaginem o aparelho fonador de culturas que sobrepõem consoantes sem a existência de nossas cinco vogais; que na verdade são acrescidas das nasais, o que, além de um colorido especial na prosódia dificulta a homogeneização da fala no império dos sotaques variados.




A cultura da oralidade estampa em Kopenawa a força imaginativa que o levou para o caminho científico. Sua presença entre os membros da Academia Brasileira de Ciência reforça a importância de sua visão de mundo para a preservação do que ainda resta em tempos de um negacionismo que nos transforma a todos em espíritos inferiores. Talvez nos transformemos mesmo em queixadas após a morte. E a sete palmos da terra vivamos um inferno desesperador em busca de alguma salvação (pós-mortem).
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A Queda do Céu. Palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
LEXIKON, Herder. Dicionário de Símbolos. 15 ed. São Paulo: Cultrix, 2015.