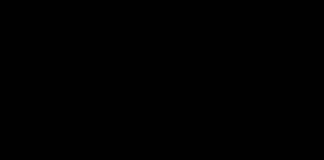Por Ramon Carlos*
De um modo estranho e bonito, lembrei-me daquela vez, quando tinha meus sete anos no máximo e uma tempestade colossal caiu sobre nossa velha casa de madeira, construída ao lado de um barranco onde minha mãe extraordinariamente conseguia plantar mandioca. Meu pai não estava em casa, já era noite, já era hábito. O céu reluzia temor, e em todos os novos trovões era possível sentir a fossa em frente à casa tremer. “Estou com medo mãe”, “Deixa de ser bobo piá, já passa”. Logo um vento poderoso fez a madeira das paredes estalarem, como se estivessem rachando aos poucos. Os fios elétricos mal esticados por fora da casa davam voltas como crianças brincando de pular corda e faziam sons de fantasmas. “Vamos todos morrer, mãe”, “Vai brincar com alguma coisa, só não liga a TV que pode queimar”. Foi ficando pior, fui pro quarto, mas quando faltou luz saí correndo de lá. Na cozinha minha mãe acendeu duas velas sobre a mesa e depois formou um ramo de folhas compridas que levou até à janela fechada. Com um fósforo ateou fogo nas folhas, abriu a janela e esticou o braço direito pra fora com o ramo na mão. Sua boca movia discretamente enquanto observava a fumaça sendo arrastada pelo vento. “O que está fazendo?”, “Logo vai passar, logo, logo…” ela respondeu. Se eu tinha desenvolvido algum tipo real de fé na vida já, estava todo voltado praquele ramo queimando, “Logo vai passar, logo, logo…” pensava. De repente um tremendo estrondo fez a casa balançar e a janela bateu com toda força no braço de minha mãe, mas ela persistiu até queimar metade do ramo. Depois recolheu o que sobrou e jogou dentro da pia, abriu a torneira e o fogo apagou. Recolheu as folhas e colocou-as dentro de uma sacola pendurada na parede. “O que vai fazer com elas?”, “Guardar pra próxima”. A tempestade ficou tão intensa e assustadora que comecei chorar abraçado nela, “Por onde anda teu pai agora?! Oh Deus, que esteja protegido no bar”. Os relâmpagos invadiam nossa casa e por alguns segundos a cozinha e a sala ficavam totalmente iluminadas. Nesses segundos era possível ver meu macaquinho de calças vermelhas imóvel em cima da TV, com seu tamborzinho todo estiloso preso na cintura, cheio de figuras geométricas coloridas. No lugar das mãos tinha baquetas plásticas que batiam no tamborzinho conforme a quantidade de corda que se dava na manivelinha cravada na coxa esquerda. Desvencilhei-me de minha mãe e enquanto ainda chorava fui até ele. Agarrei-o e deitei-me no sofá verde, sob a escuridão aplacada de quando em quando pelos relâmpagos. “Filho, quer comer alguma coisa?”, “Quero pão com massa de tomate”, “Quer um chá de cidreira também?”, “Quero”. Enquanto girava a manivela, era preciso segurar as duas baquetas para o macaquinho não começar instantaneamente seu show, assim, com o maquinário pronto, soltava a manivela e ouvia um batuque rapidíssimo e explosivo. Para melhorar a apresentação, aumentava a velocidade da manivelinha girando com os dedos, o que tornava-o o melhor baterista do mundo. Fiz isso por algumas vezes até minha mãe colocar uma xícara de chá e uma fatia de pão sobre a mesa. Parei de chorar. Levei o artista comigo jantar. O som do tambor fazia a tempestade parecer aplausos, aplausos para o macaco plástico de boca aberta. Eu adorava pão com massa de tomate e chá de cidreira. Também apreciava pão com nata e mel, porém só experimentava ao visitar meu avô no interior. Os aplausos não cessavam, era a química da plateia divina, o furor da natureza que nos lembra do quão miserável podemos ser.
Minha mãe sacou a bíblia e rezava em silêncio, somente movimentos sutis dos lábios e dos olhos. Estava sentada em outra cadeira da cozinha aproveitando a luz das velas permanentes. “Onde o pai está?” Perguntei. Nem ligou. Levantei-me sem o macaco. Permaneci por perto, vagando como um versículo não lido nem ouvido. Não queria interromper, mas queria uma resposta. A bíblia era de capa azul, sabia disso pois, toda manhã a via fechada sobre a mesa, ao lado do rádio de madeira Frahn Diplomata com seus três botões: Liga / Volume, Sintonia e Faixas. Outra bíblia, maior e bem mais sofisticada nunca era tocada, ficava sobre o criado mudo do seu quarto, aberta quase na metade, com uma fitinha vermelha demarcando o território entre as páginas brancas. Dei voltas ao redor da mesa até ela tirar os óculos, fechar a bíblia e colocá-la perto do rádio. “O que você perguntou?”, “Onde o pai está?”, “Não faço ideia”, “Por que não queima mais folhas na janela? Quem sabe passe a chuva”, “Não filho, já queimei o que precisava, é só esperar um pouco”. Tornei a levar o macaco pro sofá sem entender do que se tratava aquilo, afinal, não funcionou nem um pouco. Senti medo mais uma vez quando outro estrondo fez as paredes estalarem. A sala novamente ficou iluminada, revelando um painel de isopor cheio de medalhas pendurado. Eu cresci pouco vendo meu pai, vivia viajando, representando a cidade em eventos esportivos e arrumando álibis para fugir de responsabilidades. Eu falava sozinho a maior parte do tempo, vício que até hoje carrego. Era sagrado, me comprava com medalhas que conquistava, já minha mãe devia ter uma coleção completa de troféus, uma homenagem à esposa do ano. Queria contato, mas era como esperar um macaco cantar. Pior que ele cantava na presença de outros macacos, e nessas horas eu sentava para ouvir as histórias da selva. Malditos gorilas embriagados, pensava. Tornei-me um egoísta covarde, com medo até de comer uva com melancia juntos, mas eu não caía na armadilha, comia uma pela manhã e a outra pela noite, claro, isso quando raramente tinha. Então fiz uma promessa, jurei ganhar mais medalhas que ele na vida, e quando comecei a praticar alguns esportes na escola, não era uma missão tão difícil, eu guardava até as de consolação e por participação. Seu semblante era de preocupação, pois eu, a cada medalha lembrava que iria ultrapassá-lo. E foi assim, com certa idade, não lembro qual, eu o superei. Tornei-me o macaco que fazia a primeira voz, em uma banda falida, em um palco castigado, onde em nosso próprio show os aplausos caíam dos bolsos.
Quando um trovão quase derrubou a casa fui correndo pra debaixo da cama, mas a falta de luz logo me fez imaginar monstros abomináveis. “Mãe! Mãe!” Gritei voltando pra cozinha onde ela tomava café com leite. “O que foi piá?”, “Nada”, “Senta aí e sossega”. Ficamos um tempo apenas nos olhando. Mãe e filho, numa cruzada de pensamentos tão distintos, porém com o mesmo final: Interrogações. O Frahn Diplomata também funcionava com pilhas, por isso ela ligou o aparelho e ficamos ouvindo as notícias da cidade. Em vários bairros casas iam sendo destelhadas pelo vento, os bombeiros imploravam por ajuda, solicitando quaisquer tipos de lonas para tapar os buracos feitos nos telhados. Os bairros mais atingidos segundo o radialista eram o Santa Rita e o das Nações. Nesse tempo morávamos na rua Inglaterra, ou Japão, Venezuela, não lembro, anos mais tarde fomos para a rua Estados Unidos, lá, os moradores se consideravam do bairro Santo Ângelo, porém tudo tornou-se Nações e fim de papo pra eles. A coisa estava feia, conforme dizia o locutor. Por motivos de emergência não transmitiriam o programa de esportes naquela noite. Um repórter de rua andava de lá pra cá com as informações. Subia morro, descia morro. “Aqui no Nações a escola quase desabou Heitor”, “O centro está parcialmente alagado, o rio dos Queimados transbordou em algumas partes deixando o primeiro piso do Colégio CNEC submerso”, “Heitor, quem puder ajudar os bombeiros fornecendo lonas por favor entre em contato, porque aqui no Santa Rita o bicho tá pegando”, “Heitor, vai tomar no cu, ninguém está ouvindo essa rádio de merda. Estou todo molhado e quero ir pra casa”.
Nosso banheiro ficava pelo lado de fora da velha casa e isso dificultava algumas coisas, como por exemplo chegar até ele durante um temporal sem eletricidade. O que fiz foi escorar uma cadeira embaixo da janela e subir nela, enquanto minha mãe segurava-a aberta para não fechar com o vento. A urina ao sair pela janela era levada em várias direções e aquilo me fez rir diabolicamente, mas aparentemente Deus não estava pra gracinhas, e cuspiu um raio pela redondeza. Com o susto que levei a cadeira balançou e quase fui pro chão segurando o pau. Minha mãe largou da janela pra me segurar e a bendita fechou com o vento. Por sorte estava na reta final, e mínimos esguichos respingaram na madeira.
“Heitor, estou falando do bairro Santa Cruz, a ventania aqui derrubou um poste, está tudo escuro, os bombeiros estão com muita dificuldade e tentam desesperadamente cobrir o telhado da casa de uma senhora com setenta anos. Muita goteira aí dentro do estúdio? Pau no cu!”.
Sentei no colo de minha mãe, abracei-a e tive a sensação que ninguém sobreviveria naquela noite.
Ramon Carlos é coautor do livro estrAbismo (Editora Viseu, 2018). Escreve no site: www.estrAbismo.net. Tem materiais diversos espalhados em revistas como: Mallarmargens, Amaité Poesias & Cia, InComunidade, LiteraLivre, Subversa, Philos, Escambau, Bacanal, Ruído Manifesto, Literatura & Fechadura, Jornal Plástico Bolha e Cidadão Cultura.